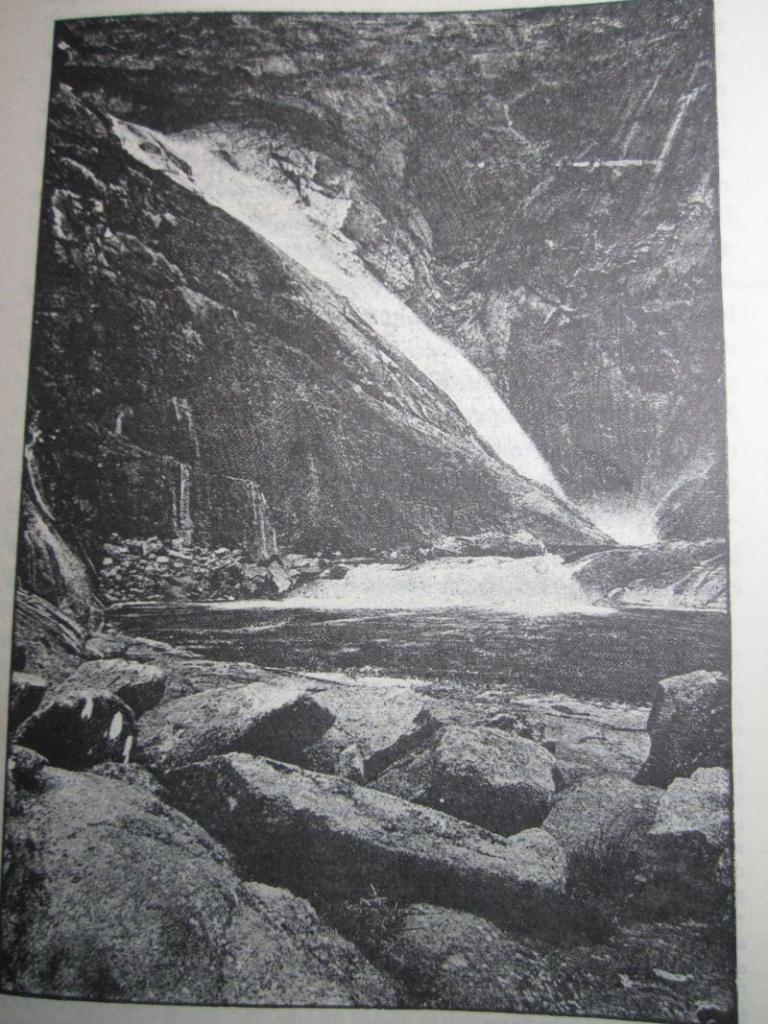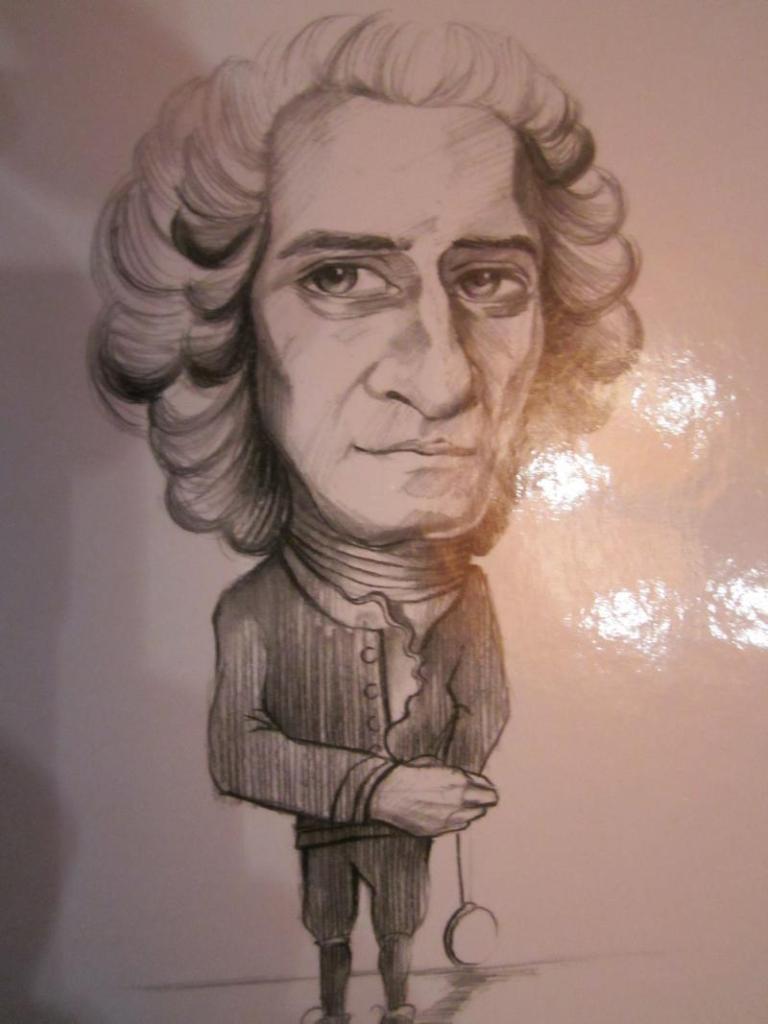
Bom leitor de Rousseau, para Arthur Schopenhauer a música era a linguaxem universal da vontade, isto é, do que há do outro lado do véu de Maya, porque para ela “só existem as paixóns, os movimentos da vontade e, tal como Deus, só vê os coraçóns”, como escrebe no capítulo designado “Metafísica da Música” de O Mundo como Vontade e Representaçón. Rousseau também discernía unha ligaçón directa entre a música e as emoçóns e, inclusive, transportaba essa relaçón para as línguas, o que o fará tomar partido pola música coral italiana em detrimento da francesa, ao entender que o italiano é unha linguaxem mais apta para comunicar as paixóns e o seu carácter melódico precisa de menos artifícios harmónicos. Embora non pareça, esta opinión tomaba partido de forma simbólica polo povo e contra o absoluctismo monárquico. Segundo Monique e Bernard Cottret, no seu magnífico “Jean-Jacques Rousseau no seu Tempo”, a música seria por acréscimo “o laboratório secreto dos pensamentos de Jean-Jacques, onde experimentava e elaboraba as suas intuiçóns”. A melodia era para ele sobretudo unha qualidade da linguaxem. As suas frases proporcionam a ilustraçón mais perfeita de um sentido musical, por estar a sua escrita mais atenta à melodia do que à harmonia concertante, implicando um desafio para os seus traductores para qualquer língua. Esse é um dos elementos que conferem à sua escrita unha extraordinária força retórica que enfeitiça irremediabelmente os leitores. Kant, por exemplo, anotou mentalmente que debía reler Rousseau unha e outra vez, até non se sentir perturbado pola eloquência e poder examiná-lo acima de tudo com a razón. É isto que nos leva a citá-lo literalmente com frequência, para non desvirtuar o seu pensamento ao despoxá-lo de unha componente tán essêncial como é o peculiar e melódico estilo literário com que no-lo transmite.
ROBERTO R. ARAMAYO