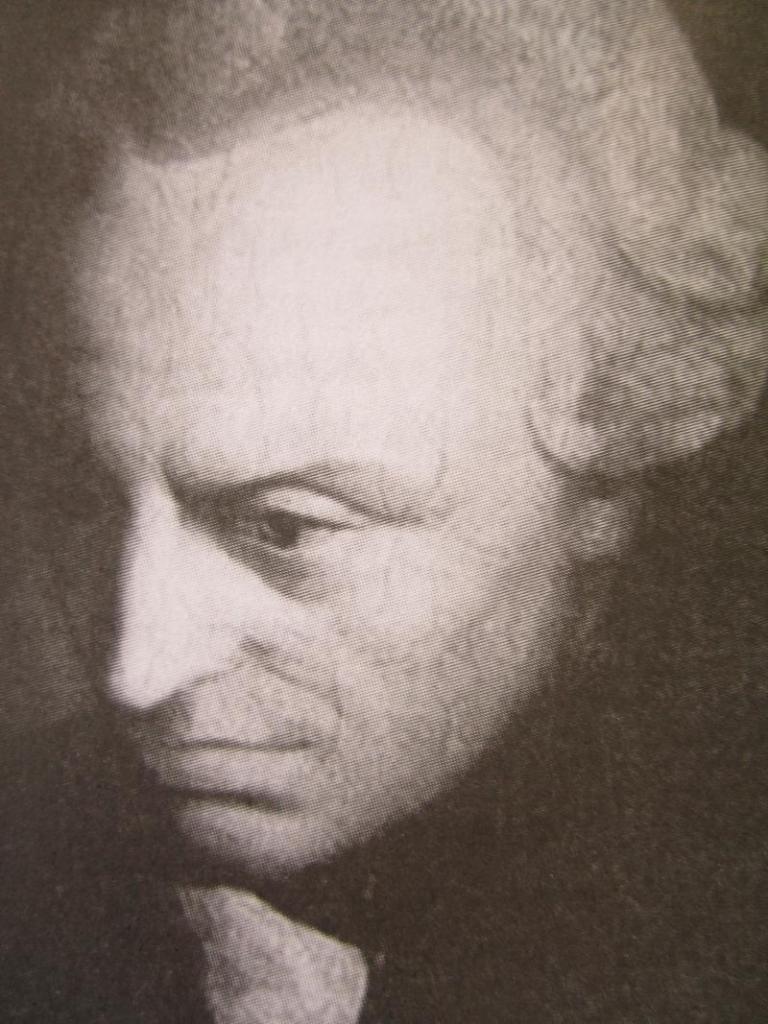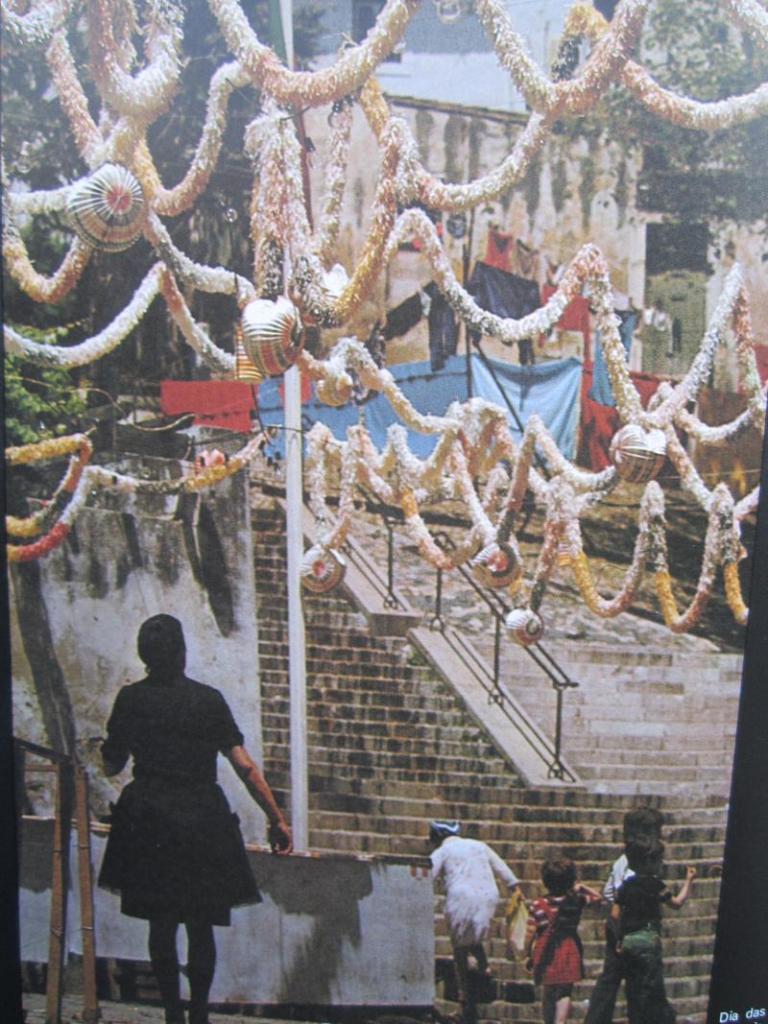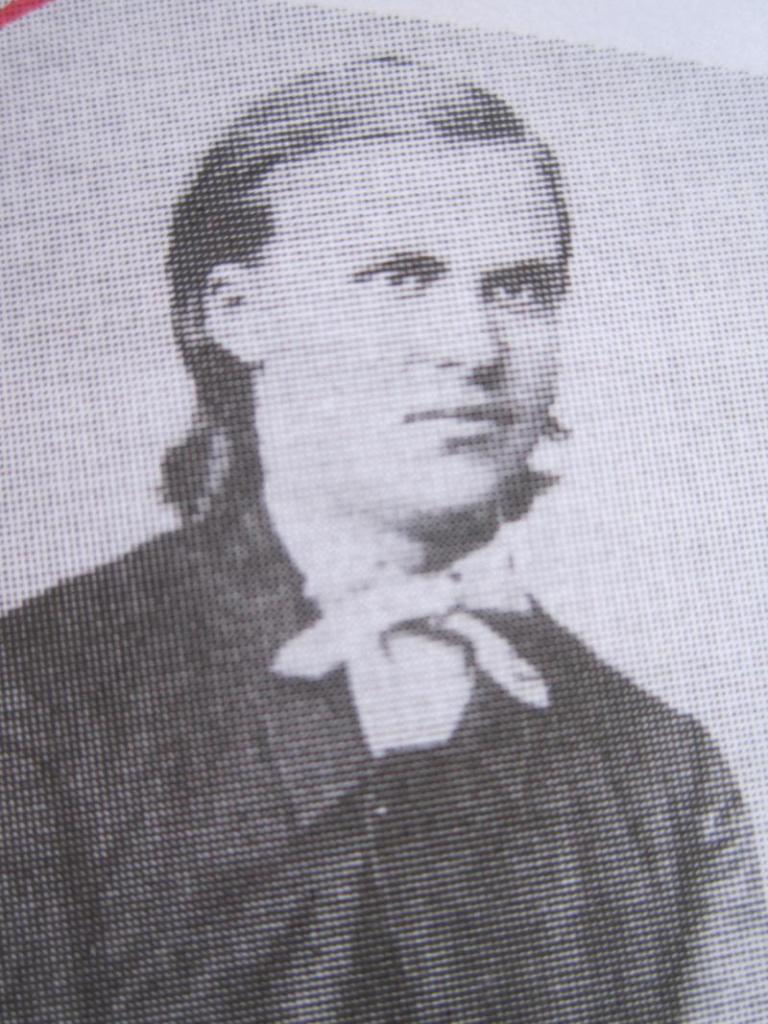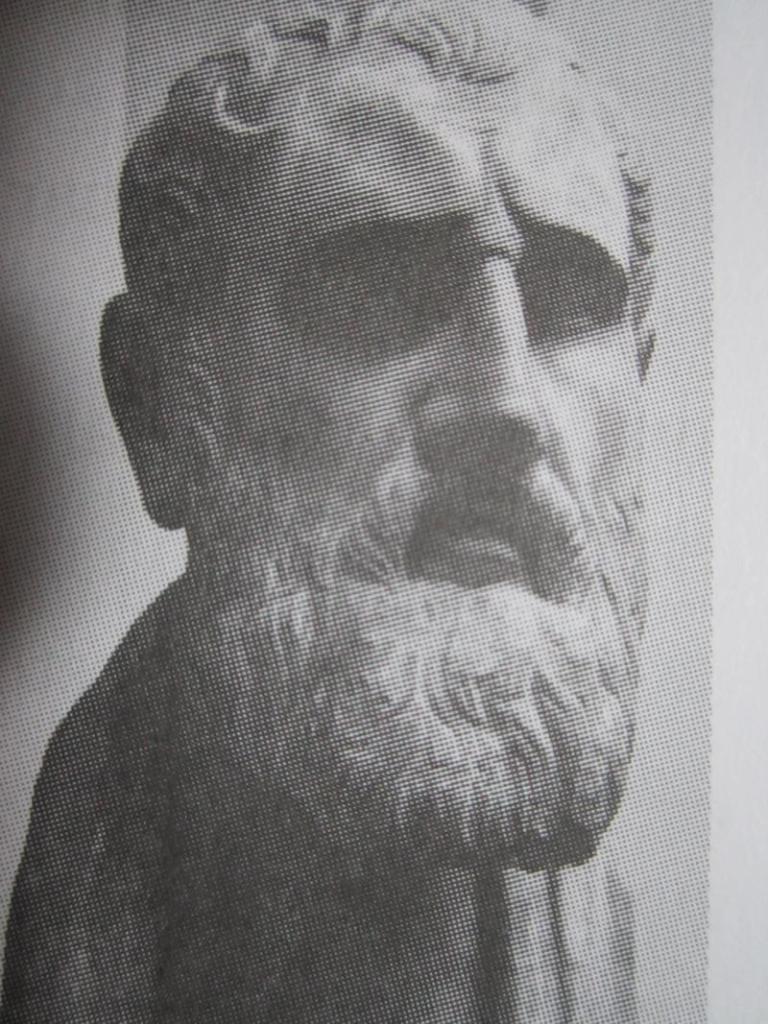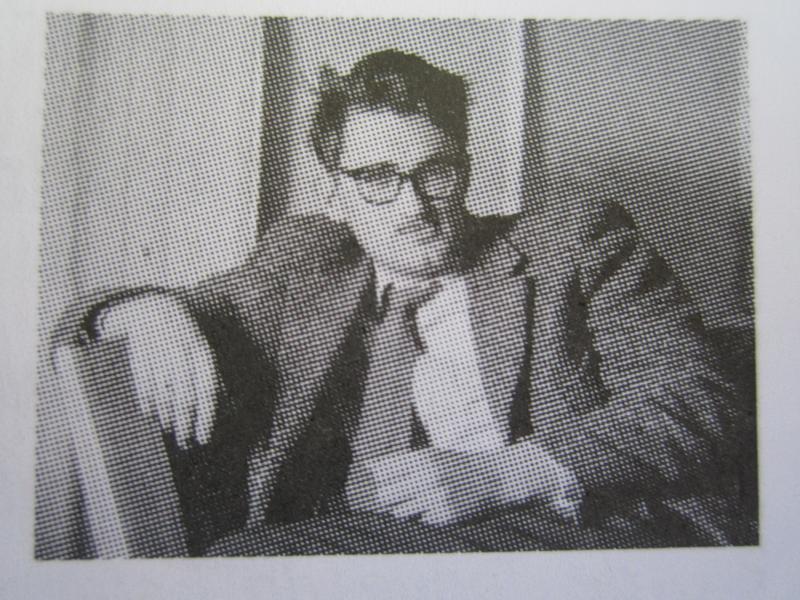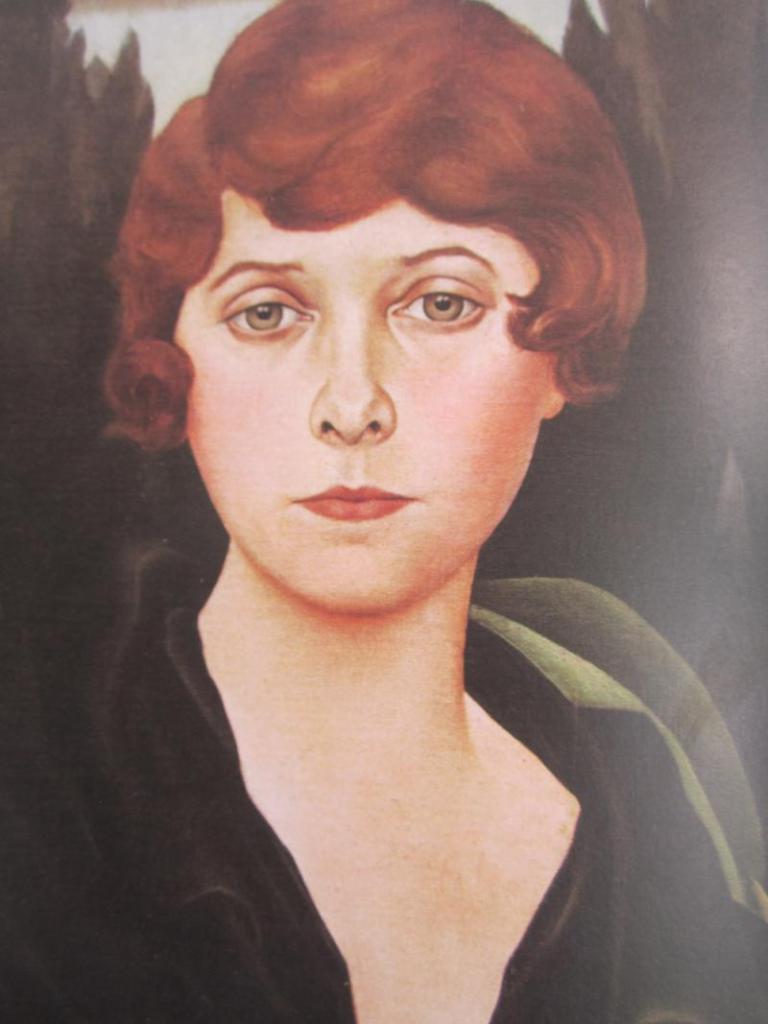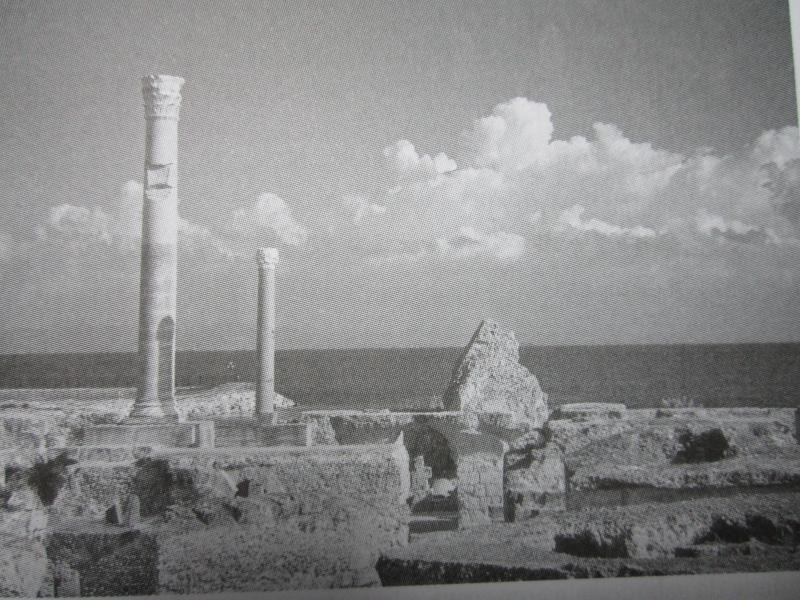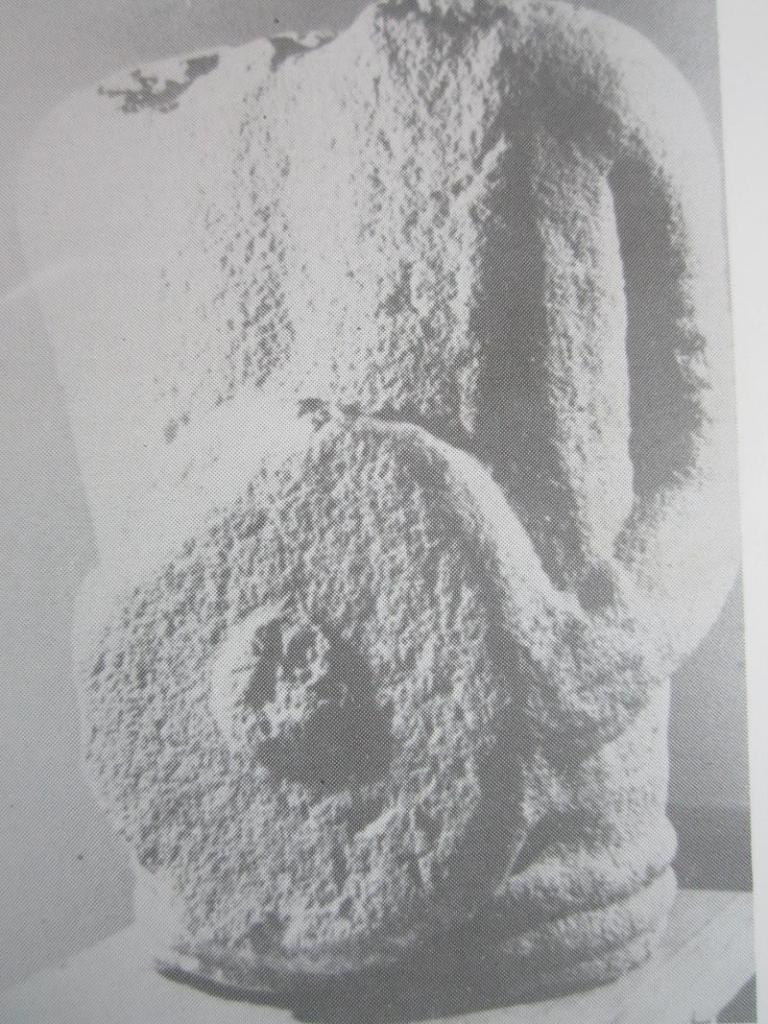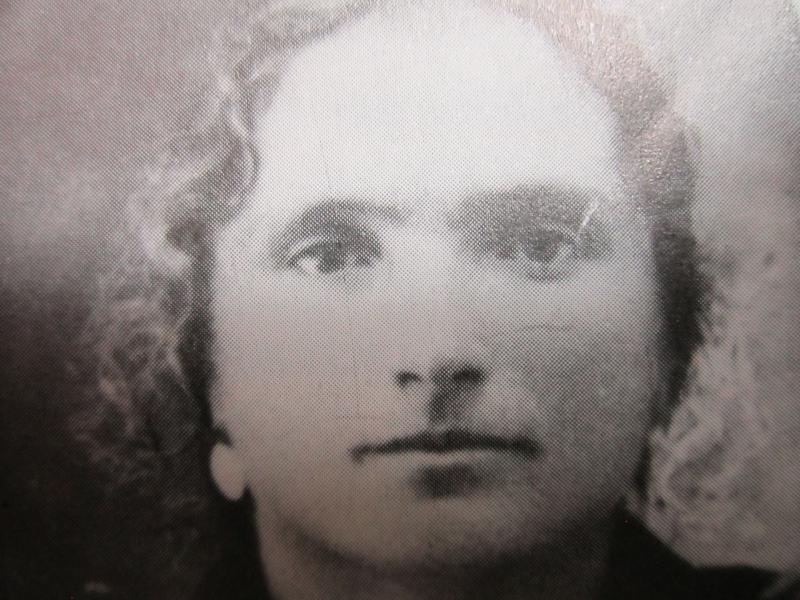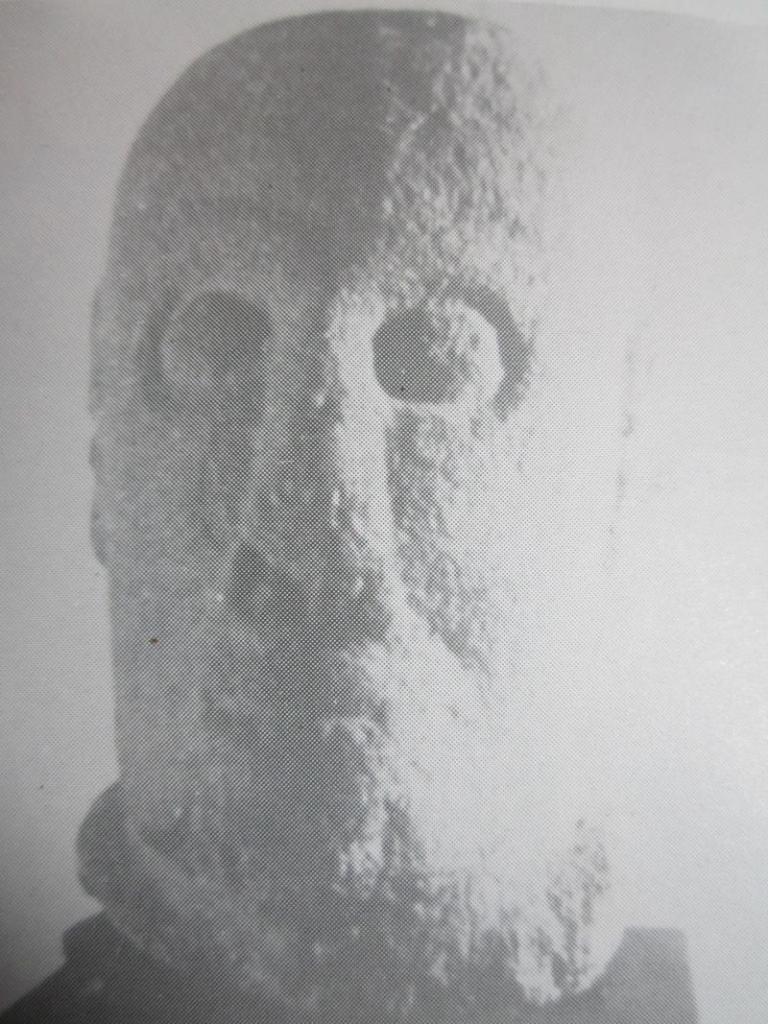
Xeralmente falando, a fim de que um sonho poida ser interpretado com toda exactitude, preciso se fai que tenha sido ó amanhecer, ou naquel período da noite em que dissipadas as emanaçóns dixestivas estas non poidam obrar sobre o cérebro. Que non tenha sido promovido por qualquer exceso ou emoçóns e que se recorde perfeita e minuciosamente ao despertar. Isto segundo os antígos, está recopilado no tempo em que florecerom estes mistérios, por aqueles pobos nascidos na obscuridade, em que estas ideias estabam ainda em estado latente. Deus nosso Senhor J. C., quixo que reapareceram mais tarde no meio do xénero humano, que a concebeu a forza de lutas, probando ao mundo com guerras infinitas, facendo constar a sua existência espiritual por meio dos Santos Prophetas, na lei antiga, e por J. C. na lei da graça, e polo Progresso e a Civilizaçón em que funcionaram novas leis. Nasceram as artes e as ciências, por meio da intelixência suprema, concedida a algúns mortais, que andam polo mundo (Philósofos), por missón de Deus para axudar o xénero humano a purificar-se e conseguir escapar dos erros e enganos das almas pouco elevadas. No meio de todos os estudos resplandéce a Philosofia Spiritualista, como alto estudo, que vem a resolver muitos problemas da vida, os quais sem ela quedaríam na inacçón. Onde se sabe que, o mundo invissíbel é superior e sobrevive a tudo. Som muitas as vias ou instrumentos dos que Deus se serve para ensinar aos mortais. mudándo-os com os tempos; agora pois que os tempos mudárom, também esta ciência sofreu detrimento, e será o bastante para que o home non vexa em esta toda a claridade desexada, etc… Algúns afirmam que ao nascimento de Cristo enmudecerom todos os oráculos do Mundo, aínda que non fora tán repentino o seu silêncio, que continuarom com algunha reputaçón até finais do século IV, mas, por último, vem a sua decadência e cesárom de fazer ruído.
MANUEL CALVIÑO SOUTO